Por Aristóteles Berino
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (UFRRJ) e Pesquisador dos Grupos Estudos Culturais em Educação e Arte e Currículos, redes educativas e imagens (UERJ)
Comprei o “blockbuster” Clube do Filme em uma megastore. Estrategicamente situado na loja, logo o título me chamou a atenção, especialmente porque já entrei na loja procurando livros sobre cinema, tendo em vista uma pesquisa que começaria em breve. Apanhei o livro e o anúncio que se tratava de uma narrativa a respeito de um pai que havia substituído a frequência escolar por três sessões semanais de filme com o filho, aguçou minha curiosidade para uma experiência que devia ser conhecida, trabalhando como professor.
Percorri as folhas do livro buscando alguma coisa que pudesse interessar a minha pesquisa. A sugestão de que filmes poderiam dizer alguma coisa, no lugar das aulas, pareceu suficientemente estimulante para passar no caixa e levar o livro para casa. Provavelmente por outros motivos, não fui o único interessado. Agora, começo de agosto, é um dos títulos mais vendido na loja. De um modo geral, pelo inusitado que conta, a narrativa do livro é atraente. Jesse, de 15 anos, errático como estudante, poderia sair da escola se assistisse a filmes escolhidos pelo pai, David Gilmour, crítico de cinema, também com problemas, mas de emprego.
Não deixa de surpreender inicialmente a história de um rapaz canadense com problemas de inadaptação escolar. Para quem trabalha no magistério, no Brasil, essa parece ser uma história comum, mas própria do “subdesenvolvimento” do país, poderíamos pensar. Existem, é verdade, aqueles filmes americanos que mostram desajustados nas escolas, mas lá há de tudo mesmo. Também estamos acostumados a admitir. Mas sobre o Canadá, já não suspeitamos muito sobre seus problemas nas escolas. Então, pelo contraste da realidade social e a exibição de um problema comum, há a esperança de uma leitura estimulante, com o desejável encontro de alguma “lição” pedagógica do cinema, produzida por um pai inconformado com o virtual destino do “fracasso escolar” do filho.
Já entregue à leitura do livro e mirando meu interesse no uso de filmes com uma finalidade didática, recebo de Gilmour uma dica importante: “eles deviam apenas ser bons, clássicos, quando possível, mas sobretudo envolventes”. Para quem deseja mostrar filmes com aspirações pedagógicas, esse pode ser um problema inicial: O que mostrar? Exibir filmes mais seletivos, recomendados pela crítica especializada, com resultados cinematográficos mais fecundos, mas provavelmente vistos sem interesse por um público juvenil mais amplo, ou preferir filmes mais acessíveis ao gosto de garotos e moças na idade escolar, com abordagens mais convidativas e sedutoras para o enredo de suas vidas?
Gilmour resolve o impasse com uma relevante consideração: “O que eu não podia era ficar indiferente ao prazer de Jesse, ao seu apetite para entretenimento. É preciso começar de algum lugar…”. Observação de um pai que poderia ser seriamente considerada por qualquer educador. Diante da disposição juvenil para a “animação”, isso não é coisa que se despreze ou contenha. É um ponto de partida e o cinema como parte de uma didática responde bem a esse desafio da comunicação e do envolvimento. Pesquisando entre as produções de todo tipo, haverá sempre um bom filme para iniciar uma atividade pedagógica.
Mas é exatamente em relação ao norte pedagógico que Gilmour apresenta a perspectiva mais arisca e sedutora, como educador que também é: “Eu escolhia os filmes de maneira bastante aleatória, sem ordem particular”. Ao propor que Jesse assistiria a filmes, então, no lugar das aulas, há um contrato que não poderia ser quebrado pelo filho. Mas a escolha dos filmes não obedecia a um projeto definido, com um resultado final que deveria ser alcançado. Eram mais as ocasiões, as circunstâncias, que proporcionavam a ideia de uma determinada sequência de filmes. “Prazeres culpados”, por exemplo, pretendia mostrar ao filho, em um determinado momento, que era possível “encontrar prazer num filme bobo. É preciso aprender a se entregar a essas coisas”.
A leitura do livro mostrará que o mais importante, frequentemente, não era a retenção dos eventuais conhecimentos proporcionados pelos filmes, embora Gilmour sempre solicitasse a atenção de Jesse, para notáveis aspectos cinematográficos. O mais importante eram as próprias conversas que se seguiam as exibições. Livres, tombavam mais para as experiências da vida do que para o lado erudito ou sofisticado da apreciação dos filmes. E a narrativa do livro, muitas, vezes, vai escapar do “clube do filme” e seguir as aventuras do filho e a vontade do pai, de algum modo, estar presente, dialogando, interessado nos acontecimentos que conviviam com sua juventude.
Observada a singularidade da relação pedagógica em questão no livro – Jesse estava fora da escola e trata-se de uma relação entre pai e filho – é possível, mesmo assim, considerar a relevância também escolar do seu método. Não necessariamente a ausência de um plano de curso ou de um projeto para as ações que se pode empreender como educador. Mas certamente, diante de qualquer intenção de educar, o espírito aberto para o aproveitamento das inúmeras circunstâncias da vida que cruzam o trabalho escolar (e os filmes) e até mesmo dar corda para oportunidades não previstas entre os conteúdos determinados para o ensino, além do desejo primário da conversa e da comunicação.
Acredito que uma das possibilidades da leitura de Clube do livro como obra pedagógica é a de, com o cinema, reunir valores educativos para a contemporaneidade, sem pretender ser um livro rigorosamente sobre educação. Educação é um ato que se espalha e os educadores são muitos. Ela acontece fora da escola e também os pais são (podem ou devem ser) pedagogos. O livro nos permite uma vista desta complexidade que é o enredo da educação, necessária para encarar os desafios que estão postos agora, no Canadá ou no Brasil. Mas é também o caráter cativante do livro que nos conduz para outras observações, necessárias, mas inexistentes no circuito elogioso que o livro recebeu na mídia.
Não tenho conhecimento da carreira internacional do livro. Mas no Brasil parece mesmo muito boa. No mesmo shopping onde comprei Clube do livro, uma importante livraria trouxe Gilmour e Jesse para uma concorrida conversa com seus leitores. Estive lá para assistir também. O fato editorial e comercial do livro não deve ser desconsiderado na sua apreciação. Trata-se de uma narrativa cuidadosamente elaborada para atingir um público vasto. Isso não é necessariamente ruim, é claro. Mas deixa suas marcas, que precisam ser identificadas. Uma dessas marcas é a escolha de uma escrita com elementos ficcionais que enfeitam o texto com um tingimento literário, de gosto relativo, que procura encantar o leitor: “Do lado de fora, o tempo fechava. Começava a nevar; flocos deslizavam pelas vidraças”.
Em todo o livro, esses elementos puramente ficcionais parecem ultrapassar a fronteira do recurso estilístico colocando em cheque a exposição das experiências narradas: trata-se de episódios vividos ou estão aí, no livro, principalmente para compor o roteiro de uma história que, sobretudo, deve ter um resultado comercial satisfatório? Isso acontece especialmente quando Gilmour conta seus diálogos com Jesse, inseridos na narrativa, apesar da improvável lembrança de todas as conversas efetivamente mantidas. No encontro promovido pela livraria, Gilmour conta que sequer pretendia escrever Clube do livro quando viveu com seu filho a improvável história do abandono da escola para assistir filmes com o pai. Na verdade, não importa quando a história foi decidida de ser contada. O fato é que quando foi criada visava ser um best seller e isso deve ser considerado na sua análise como livro de educação que também é.
Mas interessado por questões de gênero, outro aspecto do livro chamou mais a minha atenção para uma necessária crítica. Sem dúvida, um dos achados da história de Gilmour e Jesse é a possibilidade de uma encantadora relação paterna, quando os emblemas do patriarcado são duramente atingidos na nossa época. E para preservar a fabulosa história da educação de um rapaz sob os cuidados de um dedicado pai, que toma para si essa responsabilidade, amorosamente, tão bem sucedida a ponto de que Jesse voltará para os estudos, fará estudos universitários e hoje escreve roteiros (ele contou isso no encontro também), mulheres aparecem, sobretudo, de forma residual (a atual esposa de Gilmour e a mãe de Jesse), ameaçadora (as paixões de Jesse e os antigos amores de Gilmour) ou sem significância (personagens lembradas ao longo do livro).
Avançando na leitura, esse deslocamento feminino, e até alguma repulsa dirigida às mulheres, me chamaram atenção, e resolvi anotar algumas passagens já próximas do fim do livro. Entre as páginas 211 e 227, encontramos: “jovem mulher traiçoeira”, “a angústia provocada por Chloë”, “Tina na cozinha”, “a chinesa do outro lado da rua”, “eu superei a Rebecca; agora vou superar a Chloë”, “fiz uma rápida retrospectiva da lista de mulheres que me abandonaram”, “umas poucas moças magrelas”, são alguns exemplos. Há misoginia no livro e isso também não pode ser ignorado, na apreciação da aventura pedagógica de Gilmour com Jesse, tal como ela é contada. Esse é também um dos segredos da valoração da relação paterna bastante elogiada como exemplar na divulgação e elogio do livro. Segredo que precisa ficar nu.
De todo modo, do encontro na livraria, um comentário de Gilmour resumiu o que há de mais incerto e, portanto, aberto, contributivo, na sua história com Jesse: “A educação de um filho é algo misterioso demais”.




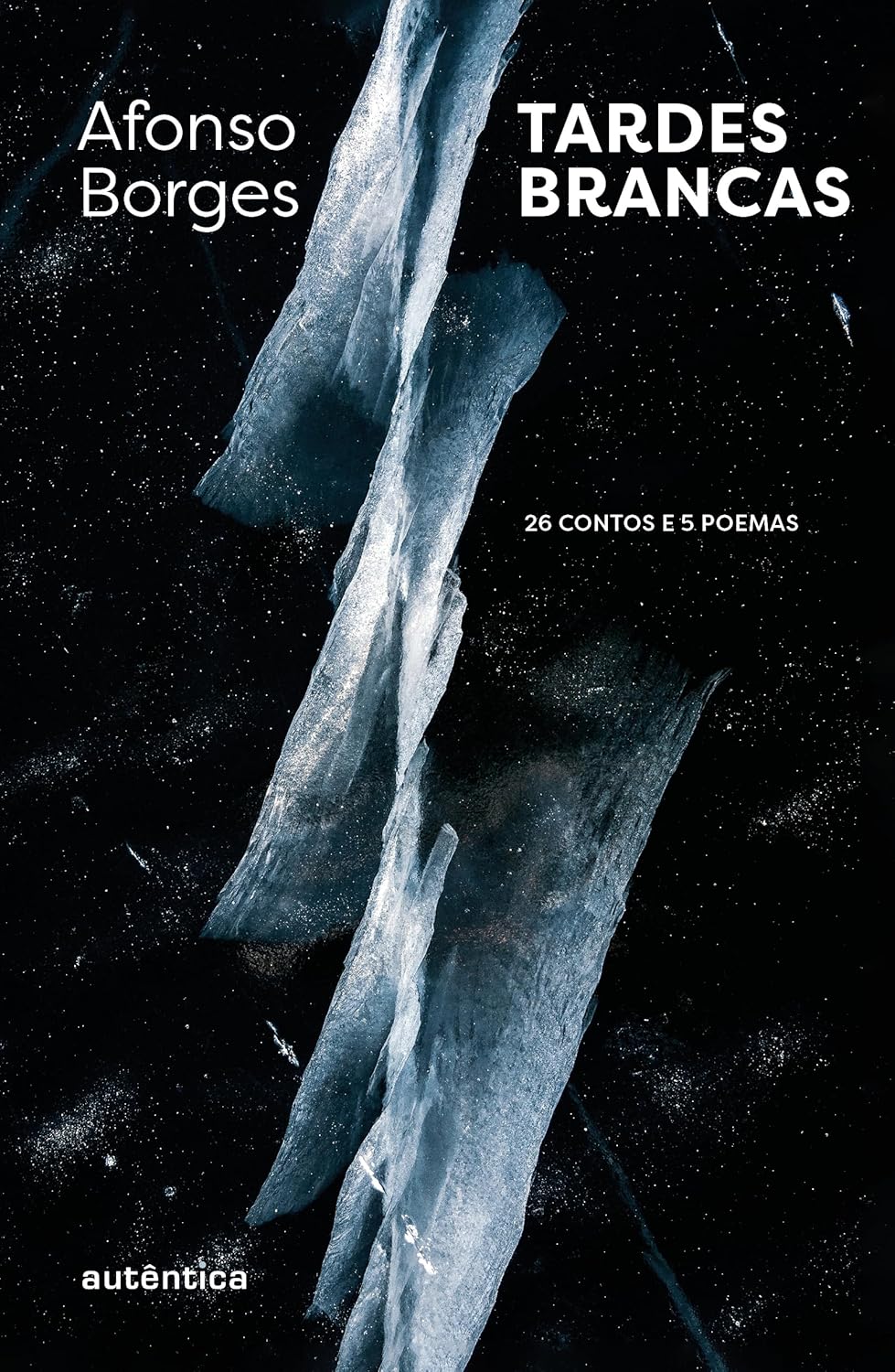






O texto, de uma sutileza pedagógica, apesar de ser uma crítica de cinema, me reporta ao período acadêmico quando fiz uma disciplina chamada SOCIOLOGIA DO CINEMA. A disciplina se propunha a tecer resenhas, seleções e indicações cinematográficas específicas. Bem ao contrário dos personagens. Porém, a filosofia da disciplina ultrapassou as barreiras do planejamento e culminou num site onde mostrávamos o resultado dos estágios que fizemos nas Escolas do Ensino Médio. A Universidade em questão é a Universidade Federal Fluminense- UFF, onde me bacharelei e licenciei em Ciências Sociais. O colégio foi o Liceu Nilo Peçanha. Levamos, através de filmes, que não tinham a pretensão sociológica, ou qualquer referência intencional de ser um elemento articulador de teorias ou reportar-se a sociólogos como Weber ou Durkheim. Porém eram explorados de forma tão expontânea e sem artificialismo pelos estagiários (o grupo do qual fazia parte) que mostrávamos como a arte fazia muita referência aos fatos sociais. Aproveitávamos a temática dos filmes e falávamos de Durhkeim, Weber… Saímos do estágio com a sensação de termos feito a diferença para aqueles alunos. Quando demos nossa última aula os alunos perguntaram quando voltaríamos para outras aulas. Ficamos sem ação…
Bem, como “Gilmour” apresentamos aos alunos “Jesse” uma perspectiva diferente de aprender, entender e gostar sociologia e com eles aprendemos a ensinar, entender e gostar do que fazíamos!
Tenho saudades dos Professores da UFF e dos alunos do Liceu. Obrigada professor Aristóteles Berino
pela volta a um pasado recente. Parabéns pelo texto muito suscinto para quem quer fazer do ofício ENSINAR uma arte, prazerosa, eficiente, eficaz.
Angela dos Santos- Professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro- Ciep 01.02.502 Avenida dos Desfiles- Setor 6 (SAMBÓDROMO)
Excelente sua resenha… sou cinéfilo e minha esposa é educadora. O livro do David Gilmour provocou uma frustração dupla aqui em casa.
Adorei encontrar um artigo sobre este livro. Li a notícia no jornal e estou doida para ler. O assunto me interessa imensamente, já que trabalho criando atividades para sala de aula decorrentes de filmes exibidos no Festival Internacional de Cinema Infantil desde 2003. Já adaptei uns trinta filmes e o projeto proporcionou a ida ao cinema para milhares de crianças. Desde já, gostei de uma coisa – a colocação de que um filme deve ser antes de mais nada emoção e prazer. O conteúdo pedagógico, a reflexão e as abordagens devem sempre partir do filme e não o contrário. Usar o filme apenas por conter uma temática relacionada ao planejamento, é tirar a graça da brincadeira. Nós professores, embora bem intencionados, já fizemos isto com a leitura e não podemos repetir o erro. Sempre haverá, em um bom filme, inúmeras chances experiências educacionais significativas. Outro livro muito interessante e que eu recomendo a quem se interessa pelo assunto é A Escola vai ao Cinema dos educadores mineiros Inês Assunção de Castro Teixeira e José de Souza Miguel Lopes. Uma leitura muito enriquecedora a partir de filmes ligados à escola.
Ótimo artigo, principalmente quando sugere a educação como entretenimento e o cinema como um recurso que pode e deve ser usado na sala de aula. Chama a atenção a questão da não escolha desse ou daquele filme, por conter ou não em sua história, algo que lembre ou mesmo que sirva como ferramenta alternativa para a prendizagem. A aprendizagem neste sentido é algo que acontece naturalmente, nos diálogos, na pura fruição da arte que se desenrola, no passar das cenas. A relação pai e filho, parece ser uma inter-pretação das interações familiares que na atualidade, realmente tem sido rechaçadas, na forma de um “deixa pra lá”. Grata surpresa. Vou lê-lo com certeza!
“A educação é um ato que se espalha e os educadores são muitos.” As notícias nesta apreciação são bastante boas de se ler e sentir. O olhar generoso tece as considerações percebidas e recorda a mansidão da arte do sentipensar o mundo para conhecer, para transformar, para observar seus movimentos. Bom ouvir testemunhos sobre aprendizagem que acontece porque associada a desejos e contextos de modo sensível as pessoas, as coisas e ao espaço.
Estive em encontros com crianças onde havia o dia de assistirem vídeos na escola. Num primeiro momento preocupava-me o fato dos meninos e meninas assistirem apenas um mesmo estilo de filme e deles serem às vezes oferecidos pela “cinemateca” da escola. Entanto com o grupo de meninos decidi pensar sobre imagens e histórias em documentários, assistiram a um vídeo sobre animais marinhos. Depois as crianças escreveram sobre o filme, gostaram muito de ver e editaram suas escrituras, aumentando com isto os títulos da biblioteca que cultivo, de livros escritos pelas crianças para o mundo e para a vida nas escolas e quem sabe um dia poderão as escrituras das crianças serem abraçadas pelos editores e exibidas nas livrarias? É bom pensar na educação como uma teoria da arte!
Excelente resenha, que faz com que tenhamos vontade de ler o livro. E quantas lições, para nós, pais e educadores. A certeza de que a educação se faz a partir de encontros, em que pessoas compartilham conhecimentos; não, necessariamente, aqueles contidos nos planos de curso, mas uma aprendizagem que se dá por impressões que ficam para sempre.
Meus melhores professores não foram os que me ensinaram as disciplinas formais; foram aqueles que me ensinaram a viver, com lições e comportamentos que guardo até hoje.